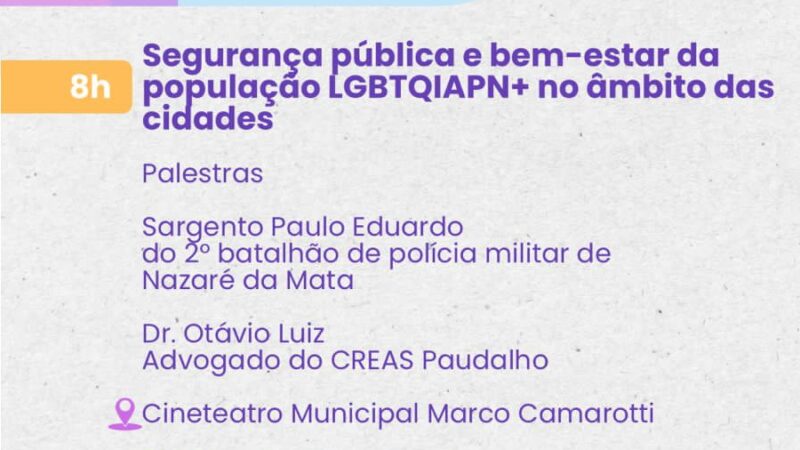A travesti que virou mãe e a família que devia acabar
 Crédito: arquivo pessoal.
Crédito: arquivo pessoal.
Passava um pouco das 19h daquela sexta-feira quando tudo na casa aquietou. Uma luz forte que entrava pela janela entreaberta rasgava o escuro do quarto de casal e repousava sobre o corpo de Apollo, que era temporariamente a única fonte de algum som. Uma pausa, então um grito que anunciou a primeira das últimas contrações. Gradualmente, o cômodo passava a ser habitado por um ser a mais, que ganhava lentamente espaço ao ar livre. Sincronicamente, uma luz dourada começou a brotar no nosso peito, claramente visível atravessando nossa pele, e a gravidade no ambiente pareceu se alterar. Enquanto Linda Leone saía, a luz se expandia gradualmente para as extremidades e nosso corpo, notamos, já não tocava mais o chão. Um forte coro de trompetes acompanhou a saída definitiva do bebê, enquanto nossos corpos levitavam no centro do quarto e a luz que vinha da janela era interrompida pelo vulto de anjos, espíritos e entidades diversas. Até o Sagrado Feminino tentou aparecer, mas ficou um pouco confuso e não chegou a entrar. A parteira, com os cabelos a um vento invisível, ergueu Linda como Simba em nossa direção e a luz do nosso corpo explodiu, lançando-nos à cama, gravidade restaurada, de almas expurgadas.
Estávamos então lá, nós três: pai, mãe e filha, três seres completamente novos. Senti tudo novo. Eu não queria mais o fim da Família, não me sentia mais inegociavelmente feminista e a revolução parecia, ali, uma palavra antiga que o tempo enrugou. A criança nasceu e renasci com ela, quase que exorcizada. A travesti, enfim, virou mãe.
***
Porém não.
Teve muito grito, muito sangue, muita dor. Teve muita violência também. Nove meses de violência, aliás. Institucional, obstétrica, social. E mais um tanto depois. E teve beleza, também, teve muita beleza. E um tanto de apoio e empatia, aqui e ali. E certamente nos transformou e nos transforma todos os dias. Violentamente, aliás. Valores, noções de tempo e espaço, noções de “eu” e de “nós” são desestabilizados a cada passo mais firme que a cria dá. Sinto que é muito como um luto, até. Mas uma coisa que o processo de se tornar mãe não é, certamente, é uma redenção.
E alguém pode dizer “óbvio que não!”, mas imagino que outras mães LBT entendam ao que me refiro quando falo das expectativas, a nosso respeito, da maternidade como redenção. Alguns pais GBT também, sobre paternidade. E trabalhadoras do sexo. E mais um tanto de gente, mas o ponto é: o estigma de marginalidade moral, impresso em vidas vistas como devassas, perniciosas, infecciosas até, tropeça de repente nessa coisa romantizada e sacralizada que é a maternidade. A única conclusão possível para o olhar coletivo, moralmente e estruturalmente condicionado – cristão até quando ateu, inclusive – é a expectativa de redenção.
“Fulana é lésbica, mas tá com Cicrana e tão até tentando ter filho!”. “Beltrano é gay, mas é super tranquilo, ele e o companheiro tão até pensando em adotar”. “É travesti mas tem uma vida direita, tem família e tudo”.
“São meio diferentes, mas são gente de bem”.
***
No meu caso, esse caldo de expectativas e cobranças exorcísticas envolvendo a maternidade foi jogado pra cozinhar numa panela muito estranha: foi enquanto meu companheiro gestava, no início do ano passado, que viralizaram recortes de um vídeo onde eu afirmava que deveríamos, sim, lutar para destruir a família.
Trata-se de excerto de um debate em que participei no seminário Democracia em Colapso, da Editora Boitempo, em 2019. Recortado de uma debate de duas horas, o trecho de alguns segundos rodou portais evangélicos, perfis de influenciadores cristãos e líderes religiosos e mesmo de candidatos à vereança, sempre acompanhado de ofensas pessoais e teorias conspiratórias sobre uma “ditadura da ideologia de gênero” ou algo assim. Meus canais de comunicação ficaram lotados de ofensas e ameaças de todo tipo.
De repente, virei “a travesti que quer destruir a família”.
Só que a travesti-que-quer-destruir-a-família também é a travesti-que-virou-mãe. E a travesti-que-virou-mãe, tão perto, tadinha, de ser purificada pela maternidade, falou que quer destruir a família!
Para grande parte de quem saiu em minha defesa naquele processo, a conclusão foi simples: “é que a Amanda se referia à família tradicional, né, essa coisa normativa”. Justifica tudo, né? Afinal, se ela está formando uma família, então não poderia ser contra qualqueeer família… Ela agora até é mãe!
Equivocam-se, ainda que com boas intenções. Minha posição política nunca foi “contra a família tradicional”, foi contra a família. E eu sei que é menos palatável assim, e que é até mais difícil de me defender por isso, mas é o que é. E não só minha, aliás, porque eu não inventei nenhuma roda sobre isso. São fartas as produções teóricas e políticas sobre o problema da família como instituição, como forma de organizar a vida e a reprodução na nossa sociedade. Não “a família tradicional conservadora”, como se fosse uma questão do tipo de família. A Família, essa forma insalubre e violenta de organizar socialmente a produção industrial de corpos mercadoria.
Se a expectativa era a de que a maternidade me amaciasse sobre isso, preciso contar que a travesti-que-quer-destruir-a-família e a travesti-que-virou-mãe são na verdade amicíssimas! Cada dia na rotina com Linda me comprova o quanto essa instituição é violenta. Física, emocional e psicologicamente violenta. Me faz pensar que é preciso muito condicionamento coletivo, muito reforço ideológico e muita coerção social pra sustentar a ideia de que essa é uma forma saudável de organizar a vida social: uma ou duas pessoas, associadas, últimas responsáveis pela manutenção da própria vida e da garantia de sobrevivência, formação, educação e criação de uma criança. A quantidade de trabalho envolvida nisso – tanto remunerado, quanto doméstico, quanto emocional – é absurda e não só incompatível com uma vida saudável, como também absolutamente inviável de ser dada conta com qualidade.

A gente erra o tempo todo. Erra com nós mesmos. Erra um com o outro. Erra com ela. É um sistema que não é feito pra funcionar bem, só pra funcionar, a pulso mesmo.
É preciso muito condicionamento e violência para nos convencer de que se trata de um sacrifício lindo e natural, ao ponto de nos impedir de sonhar (ou lembrar) formas outras de dar conta da vida coletiva. Formas outras de cuidar, de criar, de compartilhar e de viver.
Eu posso ter “virado mãe” quando Linda nasceu, mas a gente vai sendo feita mãe desde cedo. Desde sempre. Mesmo pela negação e pela marginalização – e nosso caso, LBTs, quase sempre pelo segundo. Desde sempre somos ensinadas pelo mundo que a família é o grande referencial do bom e do bem; que a adequação a essa instituição é o termômetro para a felicidade; que esse é o destino natural de todo mundo; que desviar das suas normas nos faz sujas, nos custa violências e violações; que essa instituição é a fonte última de sentido para nossas vidas; que ser quem a gente é ofender essa instituição; mas que essa instituição sempre estará lá para nos redimir.
Mas sabe? Não existe realmente redenção. O nascimento de Linda não cicatriza as feridas que me trouxeram até aqui, nem as de Apollo; não me blinda das violências que a sociedade reserva para corpos como o nosso e certamente não arrefece meu desejo e meus esforços de revolução. Pelo contrário, só os fortalece. Criar Linda me faz querer mais do que nunca destruir a família, para que ela e as próximas possam conhecer outra forma de viver.
Porque a mão do meu companheiro segurando a minha, não é sobre “família”, é sobre carinho e cumplicidade. O respirar tranquilo da minha filha quando deita no meu colo é sobre um bem-querer que explode o peito. O cheiro tranquilizante do colo de mainha é sobre segurança e gratidão. A vontade de estar junto, o querer bem, o amor se assim quiser chamar, nada disso “é” família. Apenas “estão”. E por estarem hoje, “família”, estão também cheios de coisas que não são. É para que um dia possam ser plenos que precisamos construir outras formas para eles estarem.
* Amanda Palha é travesti, bissexual, mãe, feminista e anticapitalista. É educadora popular e Trv. em estudos de gênero.